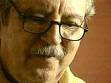
A construção da musicalidade em O Tempo Conseqüente de H. Dobal
Alfredo Werney
I
Alfredo Werney
I
Diversas foram e ainda são as tentativas de os estudiosos aproximarem dois fenômenos artísticos diferentes: música e literatura. A partir do século XVIII, quando a literatura (poesia) procurou se desprender da sua ligação com a música propriamente dita[1], inicia-se um longo percurso no qual esteticistas, musicólogos, literários e semioticistas vão investigar as correspondências entre essas duas artes, mormente como elas se auto-influenciam, até que ponto se dá tais influências e como esta relação se processa na construção do fenômeno literário. Tais empreendimentos nos induzem a crer que há, de fato, estreitas ligações entre o sistema semiótico musical e o literário, a começar pela coincidência terminológica que os perfazem: frases, cadência, período, acentos, tema, motivo, métrica e ritmo, dentre outros.
Numa perspectiva didática, Solange Ribeiro de Oliveira, referenciando o pensamento de Calvin Brown, distingue três campos de estudos dessa relação intersemiótica[2]:
i) a música na literatura
ii) a literatura na música e
iii) literatura e música
De início, faz-se importante dizer que o presente trabalho será desenvolvido no primeiro campo de estudo, “a música na literatura”. Em outros termos: o que interessa em nossa análise é a musicalidade da construção poética, as faturas literárias de efeitos musicais, a estruturação do elemento rítmico, a relação entre técnicas de composição musical e o organismo do poema, os simbolismos sonoros, e como som e sentido se processam no todo do poema. Obviamente sabemos que a análise de um grande poeta, como é H. Dobal, e de uma grande obra, como é O Tempo Conseqüente, se dá em vários níveis. Todavia, sabe-se que são múltiplas as formas de se ler um poema e, assim, faz-se necessário que elejamos uma destas para empreendermos um estudo mais coeso e substancial do fenômeno literário. Nossa análise estará centrada no nível fônico, levando em conta que a sonoridade é a base material que constitui tanto o poema quanto a música.
A constante leitura da obra dobalina nos revelou que o autor constrói a musicalidade dos seus poemas de uma forma diferente do que vinha sendo feito na produção literária piauiense, principalmente na poesia de Da Costa e Silva - um dos mais importantes poetas do estado. Este último – aproximando-se das correntes estéticas da época, como o Simbolismo e o Parnasianismo – elabora na sua obra uma musicalidade rica de efeitos onomatopaicos, entremeada de excessivas figuras de som, como a aliteração e assonância, visando, muitas das vezes, construir música com palavras. Uma sonoridade que, por diversas vezes, se sobrepõe ao sentido do texto. Nos “Poemas da Fauna” de Zodíaco[3], por exemplo, a incessante busca por expressar o ritmo e a sonoridade emitida pelos animais da caatinga –apesar de ser uma proposta interessante – torna sua poesia quase que caricatural, como em “Caramujo”:
Lerda e lúrida, a lesma, a rastejar, de rojo
Sobre a rocha, ressuma uma gosma glacial
E, em lascivo langor, entra e sai de entre
De uma concha univalva em forma de espiral.
No último terceto de “Besouro”, outro poema da fauna, é insistente e forçosa a busca de um efeito onomatopaico:
Zoando aos zunzuns, zangado, o seu rumo resume
E os rígidos ferrões encravando num tronco
Roda, zonzo de sons e tonto de perfume.
Não queremos afirmar que Dobal não tenha utilizado tais recursos, mas o que lhe diferencia é a forma como os manipulou. Esta afirmação não supõe juízo axiológico: não queremos concluir que Dobal é superior a Da Costa e Silva por este ou aquele aspecto.
Na obra de Hindemburgo, não há excessos sonoros, nem um som reproduzindo, de forma caricatural, uma imagem ou um determinado sentido. A musicalidade de Dobal é exata, não quer se sobrepor aos outros elementos. Está mais próxima da fala. Trata-se de uma “orquestração” que não privilegia nem um nem outro naipe da orquestra, mas busca um conjunto em que arranjo, harmonia, ritmo, desenhos melódicos, sentido e sintaxe tornem-se fenômenos indissociáveis[4]. O aspecto eufônico e a fluidez melódica nem sempre prevalecem em O Tempo Conseqüente, pois, em muitos momentos, o sentido do texto exige uma sonoridade ríspida e dissonante, como na primeira estrofe de “O Rio”:
Meu rio Parnaíba feito de lembrança
não corre mais entre barrancos.
é um fio na memória um rio esgotado
no recreio de muitas manhãs
rio risco, rio tatuado
na deriva de um dia perene.
Isolando o último dístico, perceberemos a estruturação do som:
rio risco rio tatuado
na deriva de um dia perene
A fricativa vibrante /r/, conjugada com as oclusivas dentais /d/ e /t/, produzem um ruído que nos dá uma sensação de impedimento. Ora, é exatamente o contrário do fluxo constante de um rio. Esta construção sonora é compatível com a imagem do rio criada pelo poeta: um rio esgotado e sem espessura como uma tatuagem. Veremos adiante que estas construções são uma constante na poética de Dobal, mormente em O Tempo Conseqüente. O rio que Dobal constrói não é mais o “velho monge de águas claras” de Da Costa e Silva. Observemos agora o primeiro quarteto do poema “Saudade”, do poeta de Amarante:
Saudade! Olhar de minha mãe rezando
E o pranto lento deslizando em fio
Saudade! Amor da minha terra...O rio
Cantigas de águas claras soluçando
O ritmo fônico do poema, apoiado por assonâncias, nos dá a impressão do fluir das águas de um rio, principalmente no último verso:
Can/ti/gas/ de á/guas/ cla/ras/ so/lu/çan/do
Neste verso, a assonância da vogal a, vogal de maior abertura da cavidade bucal, reforça o sentido de claridade. As alternâncias de vogais orais e nasais imprimem no texto uma cadência própria de um rio, na medida em que constrói um ritmo contínuo, ininterrupto. Para Octavio Paz[5], escritor mexicano, o ritmo é visão de mundo. O ritmo de um texto literário expressa uma maneira de compreender o universo, e para ele reside aí a diferença entre poesia e prosa. Assim, encontramos em “O Rio” e “Saudade”, duas formas diferentes de compreensão do rio piauiense e mesmo do Piauí, expressas em nível fônico. Com efeito, Dobal não poderia falar de um rio destruído - e sabemos que hoje isto é um fato – com uma linguagem fluente e de sonoridade agradável.
Não pretendemos aprofundar esta discussão[6], mas apenas apresentar algumas das singularidades sonoras da poesia de Dobal. O Tempo Conseqüente é a primeira obra poética de H. Dobal, que demonstra em seus poemas uma perfeita unidade estilística e temática. Elegemos para análise três desses poemas inclusos na primeira parte, “Campo de cinzas” - “Réquiem”, “Fazenda” e “Introdução e Rondó sem capricho” - que consideramos dentre os mais significativos do poeta. Neles o poeta encerra todo seu arsenal fono-semântico e utiliza técnicas que estarão presentes em outros poemas da mesma obra, e mesmo em outras obras do autor.
No último terceto de “Besouro”, outro poema da fauna, é insistente e forçosa a busca de um efeito onomatopaico:
Zoando aos zunzuns, zangado, o seu rumo resume
E os rígidos ferrões encravando num tronco
Roda, zonzo de sons e tonto de perfume.
Não queremos afirmar que Dobal não tenha utilizado tais recursos, mas o que lhe diferencia é a forma como os manipulou. Esta afirmação não supõe juízo axiológico: não queremos concluir que Dobal é superior a Da Costa e Silva por este ou aquele aspecto.
Na obra de Hindemburgo, não há excessos sonoros, nem um som reproduzindo, de forma caricatural, uma imagem ou um determinado sentido. A musicalidade de Dobal é exata, não quer se sobrepor aos outros elementos. Está mais próxima da fala. Trata-se de uma “orquestração” que não privilegia nem um nem outro naipe da orquestra, mas busca um conjunto em que arranjo, harmonia, ritmo, desenhos melódicos, sentido e sintaxe tornem-se fenômenos indissociáveis[4]. O aspecto eufônico e a fluidez melódica nem sempre prevalecem em O Tempo Conseqüente, pois, em muitos momentos, o sentido do texto exige uma sonoridade ríspida e dissonante, como na primeira estrofe de “O Rio”:
Meu rio Parnaíba feito de lembrança
não corre mais entre barrancos.
é um fio na memória um rio esgotado
no recreio de muitas manhãs
rio risco, rio tatuado
na deriva de um dia perene.
Isolando o último dístico, perceberemos a estruturação do som:
rio risco rio tatuado
na deriva de um dia perene
A fricativa vibrante /r/, conjugada com as oclusivas dentais /d/ e /t/, produzem um ruído que nos dá uma sensação de impedimento. Ora, é exatamente o contrário do fluxo constante de um rio. Esta construção sonora é compatível com a imagem do rio criada pelo poeta: um rio esgotado e sem espessura como uma tatuagem. Veremos adiante que estas construções são uma constante na poética de Dobal, mormente em O Tempo Conseqüente. O rio que Dobal constrói não é mais o “velho monge de águas claras” de Da Costa e Silva. Observemos agora o primeiro quarteto do poema “Saudade”, do poeta de Amarante:
Saudade! Olhar de minha mãe rezando
E o pranto lento deslizando em fio
Saudade! Amor da minha terra...O rio
Cantigas de águas claras soluçando
O ritmo fônico do poema, apoiado por assonâncias, nos dá a impressão do fluir das águas de um rio, principalmente no último verso:
Can/ti/gas/ de á/guas/ cla/ras/ so/lu/çan/do
Neste verso, a assonância da vogal a, vogal de maior abertura da cavidade bucal, reforça o sentido de claridade. As alternâncias de vogais orais e nasais imprimem no texto uma cadência própria de um rio, na medida em que constrói um ritmo contínuo, ininterrupto. Para Octavio Paz[5], escritor mexicano, o ritmo é visão de mundo. O ritmo de um texto literário expressa uma maneira de compreender o universo, e para ele reside aí a diferença entre poesia e prosa. Assim, encontramos em “O Rio” e “Saudade”, duas formas diferentes de compreensão do rio piauiense e mesmo do Piauí, expressas em nível fônico. Com efeito, Dobal não poderia falar de um rio destruído - e sabemos que hoje isto é um fato – com uma linguagem fluente e de sonoridade agradável.
Não pretendemos aprofundar esta discussão[6], mas apenas apresentar algumas das singularidades sonoras da poesia de Dobal. O Tempo Conseqüente é a primeira obra poética de H. Dobal, que demonstra em seus poemas uma perfeita unidade estilística e temática. Elegemos para análise três desses poemas inclusos na primeira parte, “Campo de cinzas” - “Réquiem”, “Fazenda” e “Introdução e Rondó sem capricho” - que consideramos dentre os mais significativos do poeta. Neles o poeta encerra todo seu arsenal fono-semântico e utiliza técnicas que estarão presentes em outros poemas da mesma obra, e mesmo em outras obras do autor.
II
Fazenda
1. São trinta cabeças
2. de gado cabrum
3. criação miúda
4. sem qualquer ciência
5. somente um chiqueiro
6. defesa noturna
7. que bem cedo aberto
8. o dia lhes dá
9. Rústicas a vida
10. de qualquer maneira
11. sabem extrair.
12. Mas vem da morte
13. sua serventia
14. o couro e a carne para o homem
15. mais pobre do que elas.
Este poema de H. Dobal nos impressiona de imediato pela sua concisão, pelo seu enunciado preciso e ostensivo. Destituído de metáforas ornamentais e de outras figuras estilísticas de efeito, o autor constrói sua obra se abstendo do dramatismo romântico e dos arabescos lingüísticos do Barroco.
Relativo à sua estruturação sonora, o primeiro aspecto a ser observado é a métrica. Até o décimo primeiro verso, o poema tem a divisão de uma redondilha menor, recurso pouco comum na obra do poeta que, na maioria das vezes, opta pelo verso livre. A homometria dos versos, neste caso, nos faz pensar em alguns aspectos do poema. O primeiro deles é o reforço da ambientação circular e antidramática dos versos. Observemos os quatros primeiros:
São trinta cabeças (2ª. e 5ª.)
de gado cabrum (2ª. e 5ª
criação miúda (3ª. e 5ª).
sem qualquer ciência (3ª. e 5ª).
Os quatro versos, na verdade, são dois dísticos sobrepostos e cortados pelo enjambement, método estilístico freqüente na obra dobalina. Os acentos[7] estão dispostos de forma paralela: no primeiro dístico recaem sobre a segunda e quinta sílaba, no segundo sobre a terceira e quinta. Nas canções galego-portuguesas, a redondilha menor sempre admitia o acento além da quinta, na segunda ou na terceira sílaba. O poeta de Os signos e as siglas manteve esta tradição.
Outros aspectos a serem observados: a sutil relação sonora entre as palavras. No primeiro dístico temos duas palavras de construção fônica parecidas: trinta / cabrum. Trata-se de dois dissílabos composto por consoantes seguidos de vogais nasais i / u. O segundo dístico é formado por dois trissílabos terminados em ditongo: criação / ciência, com a última sílaba contendo o mesmo fonema /s/. Tais expedientes como paralelismos, metro, cesuras, encadeamento, constroem uma cadência típica da poesia de Dobal.
Ainda há de se observar as pausas e os cortes. A alternância de corte e pausa (marcado pelo ponto) nos obriga a ler o período respirando entre um dístico e outro. As pausas, as anacruses, as assonâncias e repetições formais fazem com que o ritmo do poema seja lento e pendular, o que está em perfeita sintonia com a paisagem triste e cinzenta pintada pelo poeta: uma pobre fazenda de gados magros que irá alimentar homens mais pobres do que ela.
De uma maneira geral, a redondilha é uma forma mais aproximada da fala e do canto. Faz com que as palavras soem de forma mais direta, o que dificilmente seria possível com versos de comprimentos maiores, como o alexandrino. Isto explica, em parte, o uso do verso de cinco sílabas em “Fazenda”.
Em Dobal, os aspectos estruturais do som já nos dizem muito sobre os conteúdos e as contingências sociais nas quais o poeta está inserido. Na estrutura aparente[8] de seus textos já se nos revela muito “assunto”. Ao analisarmos o outro período do poema veremos que ele é construído com materiais estéticos que se aproximam do primeiro:
Somente um chiqueiro
defesa noturna
que bem cedo aberto
o dia lhes dá.
Novamente verificamos o uso do enjambement, com o sentido de ruptura, corte; o uso de palavras que possuem afinidade fônica como “noturna” / “aberto” - paroxítonas seguidas de vogais abertas e da constritiva vibrante /r/. A alta freqüência de paroxítonos e monossílabos tônicos (bem, dá, um) e do fonema /ê/ reforçam a relação interna entre as unidades fono-semânticas.
Compatível com tais construções, o cenário dessa pintura monocromática é igualmente defasado: um chiqueiro aberto, o único benefício destes rústicos animais. A melodia do poema sofre uma mudança marcante no último período:
Mas vem da morte
sua serventia
o couro e a carne para o homem
mais sobre do que elas
Tanto semanticamente como ritmicamente, há uma explícita modulação no caráter do texto. No aspecto rítmico, observa-se a mudança do verso em redondilha para uma cadência assimétrica, já que o referido período possui versos de diferentes comprimentos sonoros. No aspecto semântico é o momento em que se rompe com a descrição de um cenário pobre (a fazenda), para discutir o destino do boi e do homem, que na lírica dobalina se equivalem. A paisagem sonora agora é repleta de oclusivas surdas e de vogais abertas que se inter-relacionam e tecem uma teia de sons, formando uma interessante textura monofônica. O penúltimo verso “O couro e a carne para o homem”[9] é mais largo e espaçado – esticado como o couro destes animais no curtume.
Há quem relacione sons com cores: na obra de Dobal as cores cinzas de suas imagens se coadunam com as repetidas notas de sua melodia. Uma música em preto-e-branco. Uma tela em ostinatos melódico-rítmicos.
Toda a estruturação sonora do poema: as simetrias, as estruturas balanceadas, as reiterações fônicas, as sutis relações internas entre parônimos, a homofonia, fazem com que a escrita dobalina se aproxime do que o estudioso Roman Jackbson denominou de ficção lingüística. É uma poesia da gramática, em que o aspecto gramatical se sobrepõe ao aspecto lexical. Uma poética que está sobrepujada pelo “monopólio dos procedimentos gramaticais”[10]. Não obstante, tais expedientes aproximam a poesia de H. Dobal com a dos repentistas nordestinos, notadamente os aboiadores e os violeiros. Observemos os jogos gramaticais dos trava-línguas, as estruturas frasais dos confrontos de cantadores, as sinalefas e os melismas dos aboios.
Entretanto, não há na lírica do poeta o elemento pitoresco. Numa visão panorâmica, a leitura de Nordeste de Dobal se achega à de João Cabral de Melo Neto[11]: um Nordeste árido, sem paisagens exuberantes - representado por uma forma depurada, concreta e por uma musicalidade sem floreios. Projeto este que se delineia no conhecido “Romance de 30”, sobretudo na obra de Graciliano Ramos. Entretanto há de se observar que, relativo ao estrato fônico, verificamos uma ligação entre o modus operandi de Dobal e dos cantadores populares do Nordeste - lembremos que a obra do poeta mesmo sendo composta, em sua maior parte, por versos livres e brancos, há nela uma certa regularidade rítmica e timbrística - o que não implica numa tão-somente representação servil.
sem qualquer ciência (3ª. e 5ª).
Os quatro versos, na verdade, são dois dísticos sobrepostos e cortados pelo enjambement, método estilístico freqüente na obra dobalina. Os acentos[7] estão dispostos de forma paralela: no primeiro dístico recaem sobre a segunda e quinta sílaba, no segundo sobre a terceira e quinta. Nas canções galego-portuguesas, a redondilha menor sempre admitia o acento além da quinta, na segunda ou na terceira sílaba. O poeta de Os signos e as siglas manteve esta tradição.
Outros aspectos a serem observados: a sutil relação sonora entre as palavras. No primeiro dístico temos duas palavras de construção fônica parecidas: trinta / cabrum. Trata-se de dois dissílabos composto por consoantes seguidos de vogais nasais i / u. O segundo dístico é formado por dois trissílabos terminados em ditongo: criação / ciência, com a última sílaba contendo o mesmo fonema /s/. Tais expedientes como paralelismos, metro, cesuras, encadeamento, constroem uma cadência típica da poesia de Dobal.
Ainda há de se observar as pausas e os cortes. A alternância de corte e pausa (marcado pelo ponto) nos obriga a ler o período respirando entre um dístico e outro. As pausas, as anacruses, as assonâncias e repetições formais fazem com que o ritmo do poema seja lento e pendular, o que está em perfeita sintonia com a paisagem triste e cinzenta pintada pelo poeta: uma pobre fazenda de gados magros que irá alimentar homens mais pobres do que ela.
De uma maneira geral, a redondilha é uma forma mais aproximada da fala e do canto. Faz com que as palavras soem de forma mais direta, o que dificilmente seria possível com versos de comprimentos maiores, como o alexandrino. Isto explica, em parte, o uso do verso de cinco sílabas em “Fazenda”.
Em Dobal, os aspectos estruturais do som já nos dizem muito sobre os conteúdos e as contingências sociais nas quais o poeta está inserido. Na estrutura aparente[8] de seus textos já se nos revela muito “assunto”. Ao analisarmos o outro período do poema veremos que ele é construído com materiais estéticos que se aproximam do primeiro:
Somente um chiqueiro
defesa noturna
que bem cedo aberto
o dia lhes dá.
Novamente verificamos o uso do enjambement, com o sentido de ruptura, corte; o uso de palavras que possuem afinidade fônica como “noturna” / “aberto” - paroxítonas seguidas de vogais abertas e da constritiva vibrante /r/. A alta freqüência de paroxítonos e monossílabos tônicos (bem, dá, um) e do fonema /ê/ reforçam a relação interna entre as unidades fono-semânticas.
Compatível com tais construções, o cenário dessa pintura monocromática é igualmente defasado: um chiqueiro aberto, o único benefício destes rústicos animais. A melodia do poema sofre uma mudança marcante no último período:
Mas vem da morte
sua serventia
o couro e a carne para o homem
mais sobre do que elas
Tanto semanticamente como ritmicamente, há uma explícita modulação no caráter do texto. No aspecto rítmico, observa-se a mudança do verso em redondilha para uma cadência assimétrica, já que o referido período possui versos de diferentes comprimentos sonoros. No aspecto semântico é o momento em que se rompe com a descrição de um cenário pobre (a fazenda), para discutir o destino do boi e do homem, que na lírica dobalina se equivalem. A paisagem sonora agora é repleta de oclusivas surdas e de vogais abertas que se inter-relacionam e tecem uma teia de sons, formando uma interessante textura monofônica. O penúltimo verso “O couro e a carne para o homem”[9] é mais largo e espaçado – esticado como o couro destes animais no curtume.
Há quem relacione sons com cores: na obra de Dobal as cores cinzas de suas imagens se coadunam com as repetidas notas de sua melodia. Uma música em preto-e-branco. Uma tela em ostinatos melódico-rítmicos.
Toda a estruturação sonora do poema: as simetrias, as estruturas balanceadas, as reiterações fônicas, as sutis relações internas entre parônimos, a homofonia, fazem com que a escrita dobalina se aproxime do que o estudioso Roman Jackbson denominou de ficção lingüística. É uma poesia da gramática, em que o aspecto gramatical se sobrepõe ao aspecto lexical. Uma poética que está sobrepujada pelo “monopólio dos procedimentos gramaticais”[10]. Não obstante, tais expedientes aproximam a poesia de H. Dobal com a dos repentistas nordestinos, notadamente os aboiadores e os violeiros. Observemos os jogos gramaticais dos trava-línguas, as estruturas frasais dos confrontos de cantadores, as sinalefas e os melismas dos aboios.
Entretanto, não há na lírica do poeta o elemento pitoresco. Numa visão panorâmica, a leitura de Nordeste de Dobal se achega à de João Cabral de Melo Neto[11]: um Nordeste árido, sem paisagens exuberantes - representado por uma forma depurada, concreta e por uma musicalidade sem floreios. Projeto este que se delineia no conhecido “Romance de 30”, sobretudo na obra de Graciliano Ramos. Entretanto há de se observar que, relativo ao estrato fônico, verificamos uma ligação entre o modus operandi de Dobal e dos cantadores populares do Nordeste - lembremos que a obra do poeta mesmo sendo composta, em sua maior parte, por versos livres e brancos, há nela uma certa regularidade rítmica e timbrística - o que não implica numa tão-somente representação servil.
III
Réquiem
1.Nestes verões jaz o homem.
2.sobre a terra .E a dura terra
3.sobre os pés lhe pesa. E na pele
4.curtida in vivo arde-lhe o sol
5.destes outubros . Arde o ar
6.deste campo maior desta lonjura
7.onde entanguidos bois pastam a poeira.
8.E se tem alma não lhe arde o desespero
9.de ser dono de nada. Tão seco é homem
10.nestes verões. E tão curtida é a vida,
11.tão revertida ao pó nesta paisagem
12.neste campo de cinza onde se plantam
13.em meio às obras de artes do DNOCS
14.o homem e outros bichos esquecidos.
O poema “Réquiem” nos afigura como um daqueles poemas no qual prestamos atenção no seu significado e somos levados pela sua música sem percebê-la[12]. O texto admite uma interessante interpretação filosófica de cunho fenomenológico sobre a noção de tempo passado e presente, os quais se fundem no poema e nos assoma como um mesmo fenômeno. Contudo, nosso interesse neste ensaio, ratifiquemos, é a pesquisa estética do som, embora estejamos cônscios de que a leitura fenomenológica desse texto é de grande importância para compreendermos também sua estruturação sonora.
O poema se divide em duas septilhas (uma espécie de soneto composto de duas estrofes). Numa visada geral, a obra está organizada com várias repetições, sutis associações tímbricas e rítmico-melódica que constróem uma complexa paisagem sonora. Não pelo excesso de recursos, mas pela maneira como eles são conduzidos. Verifiquemos a primeira estrofe:
1.Nestes verões jaz o homem.
2.sobre a terra .E a dura terra
3.sobre os pés lhe pesa. E na pele
4.curtida in vivo arde-lhe o sol
5.destes outubros . Arde o ar
6.deste campo maior desta lonjura
7.onde entanguidos bois pastam a poeira.
O uso de palavras repetidas e de timbres parecidos em cada oração – como a sutil combinação pés lhe/ pele – dão ao ritmo fônico do poema uma sensação de monotonia e mesmo de redundância. Como apresentar/representar através de sons e imagens a vida de entanguidos bois que pastam a poeira e de homens que parecem não ter alma, se não desta maneira? O fato é que na poesia de Dobal mímese e poíesis são inseparáveis[13]. A linguagem poética não só representa, mas constitui o real.
No aspecto fonético, percebemos o uso ostensivo de consoantes linguodentais e bilabiais que contribuem para fixar a sensação de invariabilidade. Ademais, comumente as bilabiais e linguodentais são utilizadas para dar ao ritmo fônico a noção de impedimento e quebra, na medida em que inibe a sonoridade das vogais. O verso seguinte exemplifica bem este uso:
“Onde entanguidos bois pastam a poeira”
O que se comumente se discute sobre a poética de H. Dobal é a questão da economia de recursos estilísticos, o que a torna uma poesia do menos [14]. Trata-se de recursos que se fundamentam numa estilística da repetição. De fato, são métodos que, de tão utilizados, tornam o poema pobre, diminuto. A pobreza de tais empreendimentos na obra dobalina é funcional. Pode ser compreendida como uma reação às saturações sonoras advindas do Simbolismo e de alguns escritores do Romantismo. Ademais, representa “o desejo de livrar a linguagem de vícios efectistas para fazer das palavras não meios, mas coisas”.[15]
Procedimentos análogos aos pontuados anteriormente serão encontrados na segunda estrofe de “Réquiem”, e mesmo em toda lira dobalina.
E se tem alma não lhe arde o desespero
de ser dono de nada. Tão seco é o homem
nestes, verões. E tão curtida é a vida,
tão revertida ao pó nesta paisagem
neste campo de cinza onde se plantam
em meio às obras-de-arte do DNOCS.
o homem e os outro bichos esquecidos.
Além das costumeiras repetições de palavras, encontramos novamente associações timbrísticas de bilabiais e linguodentais com vogais nasalizadas. Dobal “orquestra” suas palavras de forma que soam com uma textura monofônica, típico da musicalidade nordestina do aboio, dos violeiros. O mundo sertanejo se materializa em sons e imagens, não está simplesmente em nível de idéias. Uma poesia engajada com sua própria linguagem.
Um procedimento de grande expressividade está incluso nos últimos períodos da mesma estrofe:
Tão seco é o homem
nestes verões. E tão curtida é a vida,
tão revertida ao pó nesta paisagem.
O advérbio “tão” é reiterado de uma forma que intensifica o sentido do texto. Usualmente este advérbio funciona como um conectivo que liga trechos comparativos. Neste caso, apenas a reaparição do termo foi suficiente para exprimir o estado de desolação do homem. O termo produz um eco, mas – paradoxalmente – um eco que não reverbera.
A rede de encadeamentos sonoros construída por H. Dobal funciona como um canto triste, à capela. Um canto melancólico, porém não melodramático. Além destes recursos que enumeramos, há associações melorrítmicas e constantes estéticas entre as duas estrofes. Os dois últimos períodos são maiores do que os demais, mas admitem articulações muito parecidas:
Arde o ar deste campo maior
desta lonjura
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
on/de en/tan/gui/dos/ bois/ pas/tam/ a /po /ei/ ra.
E tão curtida é a vida,
tão revertida ao pó nesta paisagem
neste campo de cinza onde se plantam
em meio às obras de artes do DNOCS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
o/ ho/mem/ e/ ou/tros/ bi/chos/ es/que /ci/ dos
Ao escandir o último verso de cada estrofe, perceberemos o mesmo número de sílabas (caso não utilizemos a sinalefa nas vogais e ou), além de uma relação de sentido: os entanguidos bois que pastam a poeira / o homem que é esquecido como os outros bichos. Neste réquiem homem e boi são compreendidos como elementos compatíveis. Homem e boi - que na primeira estrofe se encontravam em distintos versos - aqui estão inclusos no mesmo verso, no mesmo esquecimento:
o homem e outros bichos esquecidos
Em harmonia com todos os aspectos até então examinados está o título da obra. Em música, o “Réquiem” é uma missa pelos mortos da Igreja Católica Romana, cujo nome vem da primeira palavra do seu intróito Réquiem octunam dona es domine (Dá-lhes repouso eterno, Senhor)[16]. O primeiro verso do poema já nos situa neste ambiente: “Nestes verões faz o homem sobre a terra”. Dobal compõe sua melodia triste como é típico deste movimento da missa. Há, sim, uma adesão do poeta com o homem, a terra e os outros bichos, mas se trata antes de uma construção poética musical que nos faz experienciar momentos de cognição e reflexão do que mesmo momentos de catarse ou de tristeza com a condição humana “neste campo de cinza”. É um “Réquiem” que mais se aproxima de um universo inteligível do que sensível. Se a morte fosse compreendida de forma mais inteligível do que emocional não seria menos dolorosa a experiência da perda?
Sabendo da impossibilidade de se construir música propriamente com as palavras, Dobal constrói sua obra utilizando constantes estilísticas que aproximam seu canto de um réquiem:
· A reiteração de palavras, o que gera uma ausência de variedade.
· O uso de timbres repetitivos, centrados nas consoantes bilabiais e nas vogais nasais.
· Paralelismos nas construções frasais.
· Ritmo sem grandes variações.
· Reduzida variabilidade das funções sintáticas.
“Réquiem” é um poema monofônico que se centra numa incessante oscilação de termos. Notemos que o uso do enjambement provoca rupturas na sintaxe, fundindo, dessa forma, um verso no outro. Por conseguinte “o discurso não é mais feito de segmentos ligados, embora distintos, mas de um fio contínuo, sem nada nele que comece e acabe”[17]. Relacionando este material com os princípios da composição musical, denominar-se-ia esta técnica de ostinato, repetições melódico-rítmicas que geram um movimento em linhas curvas. Efeito perfeitamente coadunado com a vida circular dos bois, do homem do campo, e da própria terra.
IV
Introdução e Rondó sem capricho
1. Os novilhos do agreste
2. só tem chifre e culhões.
3. Os boizinhos do agreste
4. estão na pele e nos ossos.
5. Ai terras pobres do Piauí.
6. capins cupins. Nestas chapadas
7. corcoveadas de cupins,
8. o capim agreste não dá sustança,
9. o gado magro mal se mantém.
10. Nestas trilhas de areias as seriemas
11. procuram cobras. E cantam
12. os seus dias de fogo. Dão as faveiras
13. sua sombra aos formigueiros.
14. E os dias magros ao homem
15. sua quota de vida.
Dobal nos apresenta neste poema mais uma de suas paisagens cinzentas e miseráveis: um terreno improdutivo onde impera a escassez – o cupim come o capim, o gado não se alimenta, as seriemas procuram cobras – e o homem tenta subsistir e viver os seus dias magros. Um verdadeiro ciclo de pobreza onde “o homem vê minguando sua ração de vida a cada dia”.
De início, o poema nos causa certo estranhamento pela ironia do seu título. O Rondó é uma forma fixa medieval de origem francesa. Forma poética - e também musical – que exprimia a pompa e a elegância dos palácios reais, marcada por repetições de estrofes que funcionam como um refrão. É notória a inversão do poeta: seus versos traduzem a mais pura dureza e falta de pompa (notemos a ausência de rimas e refrão). Daí o complemento “sem capricho”. Exatamente o contrário do que essa forma fixa (o “rondó” e mais tarde o “rondel”) comumente enseja expressar: os caprichos e o universo de ostentação da aristocracia.
O que encontramos na poesia dobalina é um universo de paisagens secas e monótonas, apoiadas estilisticamente pelo o uso de poucos verbos que exprimem ação, poucos adjetivos qualificativos e por uma imbricada rede de sons que se repetem como as “incelências” das rezadeiras do Piauí[18].
Para uma compreensão mais substancial dessa construção semântica, é importante que analisemos a estrutura aparente do poema, que também engloba variados significados em si. O primeiro quarteto é construído de maneira simétrica:
1. Os novilhos do agreste
2. só tem chifre e culhões.
3. Os boizinhos do agreste
4. estão na pele e nos ossos.
Os três primeiros versos são homométricos (seis sílabas) e o quarto possui sete sílabas. Se bem observarmos, há uma alternância de acentos nos dois dísticos que formam esta primeira estrofe. O primeiro verso admite uma divisão binária, enquanto o segundo uma divisão ternária.
1. Os novilhos do agreste (2ª. e 6ª.)
2. só tem chifre e culhões. (2ª.,3ª.e 6ª.)
Da mesma forma ocorre com o segundo dístico:
3. Os boizinhos do agreste (3ª. e 6ª.)
4. estão na pele e nos ossos. (2ª.4ª. e 7ª.)
Esta cadência rítmica distingue dois tipos de versos: um verso de andamento mais rápido e fluido, que nos dá a idéia de continuidade; e um verso mais entrecortado ritmicamente, que nos dá a idéia de ruptura abrupta. Continuidade e ruptura estão impressos nos primeiros versos deste rondó despoetizado.
Processo de construção semelhante pode-se verificar em “O rondó dos cavalinhos”[19] de Manuel Bandeira, poema escrito trinta anos do de Dobal.
Os cavalinhos correndo (4º e 7º)
E nós cavalões comendo (2º, 5º e 7º)
Tua beleza, Esmeralda, (4º e 7º)
Acabou me enlouquecendo (3º, 5º e 7º)
No poema de Manuel Bandeira, a estruturação é equivalente: um verso com acentuação binária e outro ternária; um verso fluente e outro de ritmo quebrado[20]. De certa forma é comum os poetas modernos se apropriarem de formas fixas do passado e reorganizarem o material poético de uma outra maneira, não obstante com o uso de ironia. Nos dois casos, observamos também o uso de expressões coloquiais, o que contrasta com o requinte lingüístico do rondó:
“Acabou me enlouquecendo”
“estão na pele e nos ossos”.
“só tem chifre e culhões”.
“não dá sustança”
O poema de Dobal possui ainda mais duas estrofes, que diferem em muitos aspectos da primeira. Verifiquemos a segunda estrofe, que é formada por um quinteto:
Ai terras pobres do Piauí.
capins cupins. Nestas chapadas
corcoveadas de cupins,
o capim agreste não dá sustança,
o gado magro mal se mantém.
São nítidas a quebra de cadência e a modulação melódica do poema. O que percebemos agora é uma melodia em modo menor, um lamento. No nível semântico, permanece a idéia de escassez, a penúria em que se encontra o ecossistema piauiense. No nível fônico, percebemos a alta freqüência do fonema /k/ e das vogais a e u, associadas com as oclusivas surdas p e t, o que produz uma antimúsica – recurso perfeitamente coadunado com a semântica do texto, já que as oclusivas surdas e as linguodentais, nesse caso, deixam os versos com a sonoridade opaca e dura. Em outros termos: não-cantabile. Observemos ainda que as pausas do texto são muito expressivas. Compreendemos que o silêncio não é ausência de significados e, muitas vezes, expressam melhor um sentido do que o próprio som.[21] As pausas do poema nos obrigam a parar constantemente, como que para refletir sobre a situação dessas terras pobres do Piauí, onde o homem e outros bichos passeiam. São estas figurações do silêncio que imprimem na poesia de Dobal um caráter melancólico e estabelece nesta um canto que é quase só repouso. Obviamente, toda grande poesia possui tensões estilísticas. Porém nos deparamos com alguns poemas de Dobal que fogem ao conhecido binômio “tensão / repouso” da música tonal para forjar uma linha melódica circular. Por conseqüência gera-se um ritmo arrastado.
Ao averiguarmos a última estrofe desse poema, perceberemos uma estrutura frasal equivalente à estrofe anterior.
Nestas trilhas de areias as seriemas
procuram cobras. E cantam
os seus dias de fogo. Dão as faveiras
sua sombra aos formigueiros.
E os dias magros ao homem
sua quota de vida.
O uso do enjambement aqui é de grande expressividade. O corte semântico dá uma certa maleabilidade ao verso, o que engendra um movimento contínuo e esférico. Esta técnica está intimamente relacionada com o sentido do texto - o ciclo alimentar destes pobres animais. Percebemos este enunciado na sua significativa gradação: seriemas – cobras – formigueiros – homem. O homem, neste universo criado pelo poeta, não passa de mais um elemento desta roda viva. Trata-se de um ser que não está mais no centro das atividades, mas apenas circulando em meio às conseqüências do tempo, que “não foge ao que lhe cabe”.
E qual a quota de vida do homem nesse cenário desolador? Apenas dias magros e de fogo, materializado em metáforas desgastadas, escassos adjetivos e verbos contidos. “Introdução e Rondó sem capricho” é um texto sem excessos e drama. É um daqueles poemas “para ser lido em voz baixa”[22]. A idéia de perda e de escassez – tônica dessa poesia - está expressa principalmente no último dístico (versos 14 e 15):
“só tem chifre e culhões”.
“não dá sustança”
O poema de Dobal possui ainda mais duas estrofes, que diferem em muitos aspectos da primeira. Verifiquemos a segunda estrofe, que é formada por um quinteto:
Ai terras pobres do Piauí.
capins cupins. Nestas chapadas
corcoveadas de cupins,
o capim agreste não dá sustança,
o gado magro mal se mantém.
São nítidas a quebra de cadência e a modulação melódica do poema. O que percebemos agora é uma melodia em modo menor, um lamento. No nível semântico, permanece a idéia de escassez, a penúria em que se encontra o ecossistema piauiense. No nível fônico, percebemos a alta freqüência do fonema /k/ e das vogais a e u, associadas com as oclusivas surdas p e t, o que produz uma antimúsica – recurso perfeitamente coadunado com a semântica do texto, já que as oclusivas surdas e as linguodentais, nesse caso, deixam os versos com a sonoridade opaca e dura. Em outros termos: não-cantabile. Observemos ainda que as pausas do texto são muito expressivas. Compreendemos que o silêncio não é ausência de significados e, muitas vezes, expressam melhor um sentido do que o próprio som.[21] As pausas do poema nos obrigam a parar constantemente, como que para refletir sobre a situação dessas terras pobres do Piauí, onde o homem e outros bichos passeiam. São estas figurações do silêncio que imprimem na poesia de Dobal um caráter melancólico e estabelece nesta um canto que é quase só repouso. Obviamente, toda grande poesia possui tensões estilísticas. Porém nos deparamos com alguns poemas de Dobal que fogem ao conhecido binômio “tensão / repouso” da música tonal para forjar uma linha melódica circular. Por conseqüência gera-se um ritmo arrastado.
Ao averiguarmos a última estrofe desse poema, perceberemos uma estrutura frasal equivalente à estrofe anterior.
Nestas trilhas de areias as seriemas
procuram cobras. E cantam
os seus dias de fogo. Dão as faveiras
sua sombra aos formigueiros.
E os dias magros ao homem
sua quota de vida.
O uso do enjambement aqui é de grande expressividade. O corte semântico dá uma certa maleabilidade ao verso, o que engendra um movimento contínuo e esférico. Esta técnica está intimamente relacionada com o sentido do texto - o ciclo alimentar destes pobres animais. Percebemos este enunciado na sua significativa gradação: seriemas – cobras – formigueiros – homem. O homem, neste universo criado pelo poeta, não passa de mais um elemento desta roda viva. Trata-se de um ser que não está mais no centro das atividades, mas apenas circulando em meio às conseqüências do tempo, que “não foge ao que lhe cabe”.
E qual a quota de vida do homem nesse cenário desolador? Apenas dias magros e de fogo, materializado em metáforas desgastadas, escassos adjetivos e verbos contidos. “Introdução e Rondó sem capricho” é um texto sem excessos e drama. É um daqueles poemas “para ser lido em voz baixa”[22]. A idéia de perda e de escassez – tônica dessa poesia - está expressa principalmente no último dístico (versos 14 e 15):
E os dias magros (dão) ao homem
sua quota de vida
Notemos que a elipse – no caso a supressão do verbo “dar” - reforça mais ainda o sentido de carência. Se bem observarmos trata-se de expedientes comuns em “O Tempo Conseqüente”: supressões de termos, o uso de gradações, poucos adjetivos, anáforas e outras técnicas que proporcionam ao texto poético uma contenção retórica. Ainda nos remetendo à última estrofe, verificamos um significativo uso de ditongos decrescentes, que tornam a articulação do texto mais fluida e curva (versos 12 e 13):
Dão as faveiras
sua sombra aos formigueiros
Como observamos, há diferenças marcantes entre a primeira estrofe e as demais. Possivelmente, a tentativa do poeta foi de criar uma espécie de “peça musical” em dois movimentos. Ora, trata-se exatamente da bipartição do título: “Introdução e Rondó sem capricho”[23].
Em O Tempo Conseqüente, as estruturas frasais admitem contornos melódico-rítmicos sinuosos numa perfeita combinação com a noção de tempo firmada pelo poeta.
V
T. S. Eliot, no ensaio “A musicalidade da poesia”[24], observa que:
(...) Um poema musical é um poema que possui um esquema musical de som e um esquema musical dos significados secundários das palavras que o compõe, e no qual esses dois esquemas são unos e indissolúveis.
O poeta inglês propõe uma musicalidade que se estenda ao significado e que esteja harmonizada com o todo do poema. Em nossa análise, o que almejamos foi reafirmar o enunciado eliotiano, pontuando que na poética dobalina a noção de tempo – leitmotiv da obra analisada – se mescla com a rede sonora, sintetizando um universo de fenômenos e sinestesias próprias.
T. S. Eliot[25] ainda nos propõe que:
(...) Se alguém objetar que é apenas ao som puro, separado do sentido, que se pode aplicar com justeza aplicado o adjetivo musical, apenas posso reafirmar minha prévia declaração de que o som de um poema é uma abstração tão grande do poema como é o sentido.
Neste sentido, amplia-se mais ainda o conceito de musicalidade. A musicalidade aqui não está apenas presente na estrutura aparente do poema: ritmo, métrica, timbre, aliterações e rimas, mas também se revela nas imagens simbólicas, na harmonia dos assuntos, dos significados implícitos. É totalmente abstrata.
Esta é a musicalidade a qual a poesia dobalina está filiada. Uma organização sonora que gera tensões estilísticas e não se apresenta facilmente ao interlocutor apressado. Uma musicalidade subtendida, na qual – paradoxalmente – as camadas mais palpáveis do poema comportam o que há de mais simples e mais sublime.
[1] Para alguns estudiosos, como Segismundo Espina (in Na Madrugada das Formas Poéticas, SP, Ática), uma ligação na qual esta sempre se manteve superior àquela.
[2] Solange Ribeiro ,em Literatura e Música (SP, Perspectiva, 2002), admite que o estudo da música na literatura é o que mais auxilia na compreensão do fenômeno literário, uma vez que o exame da literatura na música está mais relacionado aos estudos dos musicólogos e o campo literatura e música aos estudos da canção.
[3] In: Poesias Completas. RJ, Nova Fronteira, 2000.
[4] Sobre esse equilíbrio na poesia de Dobal, Ranieri Ribas (“Realismo Fenomenológico e Função Épica na Poesia de H. Dobal, in Amálgama, 2004) demonstra como nos versos deste autor signo e realidade estão em rigorosa homologia: “(...) sua voz é tão crua e árida que nos soa como continuidade das paisagens que retrata, como uma poética isomórfica do vocábulo à imagem”
[5] “O ritmo na poesia” In: Signos em Rotação, SP, Perspectiva, 2005.
[6] Para uma visão comparativa das poéticas de Da Costa e Silva e H. Dobal nos níveis estilístico, fônico e ideológico, ver “Da Costa e Silva e H. Dobal: representação ficcional e diálogo intrapoético”, de Wanderson Lima, a sair na obra Textointertexto, organizada por João Kennedy Eugênio.
[7] Há visões díspares com relação a esse fenômeno. Para os gregos da Antiguidade clássica, as sílabas eram quantificadas tomando por base a duração, donde se considerava a alternância entre sílabas longas e breves. Há algum tempo – mormente na gramática da língua portuguesa - passou-se a considerar o número de sílaba tomando por base a intensidade em detrimento da duração, donde se admite a alternância entre sílabas fortes e fracas. Neste sentido, assento (arsis/apoio) é diferente de acento (sinal que marca a intensidade). Aqui preferimos usar o termo em voga: acento.
[8] Termo utilizado por Antonio Candido (in Na Sala de Aula, SP, Ática, 1995 ) para nomear as estruturas do poema que, segundo o estudioso, são mais fáceis de se perceber: metro, rimas, estrofação, períodos,dentre outros.
[9] Notemos que a sinalefa “O couro e a carne” e a elisão “para o homem” do verso fazem com que o articulemos num só impulso, dando assim um expressivo efeito de continuidade.
[10] Termo de Roman Jakobson. In: Cinema. Lingüística. Poética, SP, Perspectiva, 1970.
[11] A esse respeito é de grande valor a leitura de A invenção do Nordestes e outras artes (SP, Cortez, 2006), de Durval Muniz de Albuquerque Jr. O autor estuda como a região Nordeste foi inventada através das várias vozes e imagens, inclusive da voz da Literatura.
[12] A idéia é de T.S Eliot .In: A essência da poesia. RJ, Artenova, 1972.
[13] Wanderson Lima, partindo de teóricos como Luiz Costa Lima, estuda a relação entre mimesis e poíesis, mostrando que em H.Dobal “representar’ e “criar” fazem parte do mesmo processo .In: O fazedor de cidades: mímesis e poiéses na obra de H. Dobal (dissertação de mestrado, UFPI, 2005).
[14] O termo é de Antônio Carlos Secchin, que desenvolve um extenso estudo sobre a obra de João Cabral de Melo Neto.
[15] Wanderson Lima, Op. Cit.
[16] In: S. Sadie, Dicionário Grove de Música, RJ, Jorge Zahar, 1994.
[17] A expressão é de Jean Cohen ao tratar do uso do enjambement.In: Estrutura da linguagem poética. Cutrix:São Paulo, 1974.
[18] Trata-se de um estudo que necessita ainda ser desenvolvido: a relação entre a sonoridade da poesia de Dobal, os cantos religiosos e o repente (aboio, emboladas, trava-línguas).
[19] In: Estrela da vida inteira. RJ, José Olímpio, 1979.
[20] Não almejamos inferir que o poema de H. Dobal deriva do de Bandeira, mas apenas pontuar semelhanças que ajudarão nossa análise.
[21] Para a crítica Maria Luiza Ramos, a grande conquista do verso livre foi a utilização do silêncio como recurso expressivo. As pausas, nesse sentido, passaram a ter o mesmo papel funcional que desempenha na música.
[22] A expressão é de João Cabral de Melo Neto, que admite a existência de “poemas para serem lido em voz alta” e “ poemas para serem lidos em voz baixa”.
[23] Há aí mais uma ironia de Dobal: ao nomear o poema com a expressão “Rondó sem capricho”, o poeta brinca com os compositores clássicos que – a exemplo de Beethoven – compuseram rondós caprichosos.
[24] In: A essência da poesia. RJ, Artenova, 1972, p. 53.
[25] Ibidem.
(Este texto foi publicado no livro "Cantigas de viver: leituras de H.Dobal", org. Jõao Kennedy & Halan Silva)

Nenhum comentário:
Postar um comentário